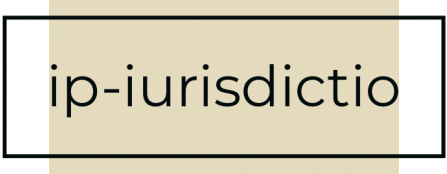[Karin Grau-Kuntz]
I – Metodologia

NORBERT ELIAS[1], criticando o método utilizado nas pesquisas históricas e referindo-se especificamente às suas falhas em relação à análise do processo de feudalização no Ocidente, postulou que
“a tendência a pensar em termos de causas isoladas, a identificar fatores individuais gerando as transformações sociais ou, quando muito, a examinar apenas o aspecto legal das instituições sociais e a buscar os exemplos, de acordo com os quais foram modelados por este ou aquele agente – tudo isso tornou esses processos e instituições tão inacessíveis ao nosso entendimento como eram os processos naturais para os pensadores escolásticos”. E, citando CALMETTE, seguiu afirmando: “para sermos exatos, o conhecimento de antecedentes, isto é, de fenômenos análogos anteriores a um dado fenômeno, é interessante e instrutivo para os historiadores e não iremos ignorá-lo. Mas esses ‘antecedentes’ não foram os únicos fatores envolvidos, e talvez nem mesmo os mais importantes. O principal não é saber de onde procede o ´elemento feudal`, se suas origens devem ser procuradas em Roma ou entre os povos germânicos, mas por que esse elemento assumiu seu caráter ´feudal`. Se essas fundações se transformaram naquilo que sabemos, devemos isso a uma evolução cujo segredo nem Roma nem os germânicos podem nos revelar (…)”.[2]
A análise a ser procedida neste ensaio não tem por liame metodológico buscar em causas isoladas, ou na identificação de fatores sociais individuais (“em fenômenos análogos anteriores a um determinado fenômeno”), o fundamento histórico do direito de autor. Pelo contrário, seguindo o postulado por CALMETTE e o método aplicado no trabalho de ELIAS, a preocupação aqui não estará centrada em “descobrir” na Antiguidade ou na Idade Média as origens do direito de autor, mas antes em desvendar o segredo de uma evolução que culminou na definição do conteúdo que hodiernamente reporta ao instituto do direito de autor.
O direito não é fim em si mesmo, mas antes um instrumento de conformação social, um fenômeno cultural. Logo, quando se pretende compreender a evolução do direito ou, no caso presente, a evolução do direito de autor, deve ser necessariamente levada a cabo uma análise de seu conteúdo instrumental (conformador) e de seu conteúdo cultural.
No que toca aqueles antecedentes mencionados por CALMETTE, sabe-se, por exemplo, como será visto mais detalhadamente a seguir, que já na Antiguidade era reconhecido um vínculo entre autor e obra. Ocorre, porém, que o conteúdo instrumental (conformador) e o conteúdo cultural do vínculo pessoal do autor com a obra na Antiguidade não correspondem ao conteúdo instrumental (conformador) e ao conteúdo cultural moderno.[3]
A verdade é que os conteúdos dos direitos sofrem grande variação através dos tempos, o que implica na dificuldade, e às vezes até mesmo na impossibilidade, de buscar descobrir um conteúdo moderno no passado. Os conteúdos só podem ser desvendados dentro da realidade que lhes dá suporte.
Analisar os “fenômenos análogos anteriores” ao fenômeno moderno auxilia, sem dúvida, para a compreensão do fenômeno moderno; sua evolução (do fenômeno moderno), porém, não se deve apenas, ou quando muito, àqueles.[4]
Isto esclarecido, resta evidente que a análise histórica não deve ser procedida como um mero acessório ao objeto de estudo, mas antes como método para a determinação de fatores que geraram as condições necessárias para que o fenômeno moderno pudesse ganhar corpo. [5]
Como será visto a seguir, o “segredo” da evolução do direito de autor encontra-se nas idéias antropocêntricas, no racionalismo, no liberalismo econômico e no pensamento reformador. Assim sendo, para proceder com a análise do fundamento histórico do direito de autor bastaria, então, iniciar a pesquisa considerando o período do Renascimento.
A importância científica do método de análise histórica centrado no desenvolvimento do fenômeno direito de autor, e não, fazendo vezes de “agente investigador”, no exercício de procurar descobri-lo como um objeto em tempos passados, pede, porém, a consideração dos períodos históricos da Antiguidade e da Idade Média.
Insistindo, a importância de considerar os períodos históricos mencionados não se deve ao fim de eleger aqueles “antecedentes” mencionados por CALMETTE e ELIAS como determinantes para o processo de evolução do direito de autor, mas antes para, invertendo a instrumentalidade que vem sendo adotada em trabalhos similares, demonstrar porque o direito de autor não teve espaço para se desenvolver antes do advento da Idade Moderna.[6]
II – Antiguidade
1. É comum encontrarmos em representativa parte da literatura especializada a afirmação de que, já seria possível detectar noções de direitos não patrimoniais de autor no período do Império Romano.[7] Tal afirmação deve ser recebida com cuidado. O Direito Romano não reconheceu, em momento algum, proteção jurídica à obra intelectual. Isto quer então dizer, já de plano, que a menção a um direito de autor não patrimonial não é tecnicamente adequada.
O fato de o sistema jurídico romano não ter reconhecido proteção jurídica (um direito) ao vínculo ideal do autor em relação à sua obra não significa, porém, que naquele período tal vínculo não tenha sido reconhecido. [8] Este era, sim, reconhecido, apenas não como um fenômeno jurídico, mas antes como um fenômeno moral. A moral dos romanos, por sua vez, não era a mesma moral dos dias de hoje. Neste sentido, referir-se a uma proteção (moral) autoral no período do Império Romano pede não só que se esclareça o liame moral da sociedade romana, mas ainda que a expressão proteção autoral seja tomada destacada do conteúdo que hoje vinculamos a ela.
2. A prática da edição de livros já era desenvolvida no período do Império Romano. Por certo, o sentido da expressão edição, aqui empregado para descrever o sistema de produção de livros naquela época, não corresponde ao seu sentido moderno; porém, levando em consideração os limites artesanais de produção da Antiguidade, pode-se até mesmo afirmar que a edição de livros era feita em um sistema de escala.[9]
Ainda no que diz respeito à noção que vem vinculada à expressão livro, cabe destacar que, até o século I d.C., os romanos escreviam em folhas de papiro. A parte interna do caule daquela planta era cortada em tiras finas que, sobrepostas e cruzadas, formavam uma página. Esta página, então, era colada a outras formando uma tira que, uma vez enrolada, era chamada de Volumen, palavra latina derivada do verbo volvere que significa desenrolar. O manuseio do Volumen, que, como bem expressa a palavra, tinha de ser desenrolado para ser lido, era incômodo. Assim, com a introdução do pergaminho no ocidente, o Volumen foi sendo paulatinamente substituído pelo Codex, agora um livro no sentido daquilo que se compreende como tal, formado pela encadernação de folhas de couro (pergaminho). Os romanos já conheciam, desde o século I d.C., a edição em forma de Codex; sua utilização, porém, foi popularizada apenas a partir do século IV. [10]
3. Nos primórdios da República Romana, os poetas costumavam, ao invés de escreverem suas poesias, recitá-las de improviso. Entendia-se que esta aptidão para o improviso poético se devia à inspiração das musas.[11] Esta prática persistiu paralelamente ao desenvolvimento da cultura da escrita até a fase de transição da República para o Império.
Com a crise das instituições republicanas no século I a.C., os textos escritos ganharam uma conotação política. Cícero, por exemplo, valeu-se da palavra escrita para, quando afastado da vida política, continuar a exercer influência social.[12]
Além do potencial político da palavra escrita, o período de crise gerou, ainda, o enfraquecimento do vínculo entre o homem e o social; ou seja, o homem, que até então encontrava o seu valor no corpo da sociedade, passou, frente à crise do social, a buscar o seu valor em sua própria individualidade.
A combinação desta tendência de busca de valores na manifestação individual, em paralelo com a perda do prestígio do político, alimentou e aumentou a posição social do poeta. Nesta dinâmica uma das razões do empenho dos mais abastados em assumirem o papel de mecenas das artes.[13]
Quando aqui afirmamos que os romanos desenvolveram traços individualistas em sua cultura, não se tem em mente aquela noção de cultura individualista moderna. Com a perda da identificação com o social, o poeta romano deixou de ser um mero instrumento das musas para agir em nome próprio, mas não sem perder um vínculo com o sobrenatural. A crença em um vínculo do autor com os deuses, vínculo que se materializava na obra, dava origem ao padrão moral que levava ao repúdio ao plágio,[14] à mutilação da obra ou a sua edição não autorizada. [15]
A idéia do vínculo do poeta com os deuses exprime a convicção de que somente ele seria capaz de saber identificar o momento em que a obra teria tomado, aos olhos dos deuses, sua forma definitiva. Sua edição não autorizada significava, assim, violação da vontade dos deuses. No mesmo sentido, o plagiador, ao fazer passar uma obra alheia como sua, apropriava-se ilegitimamente daquela ligação divina do autor com os deuses. Em uma sociedade religiosa como a romana, estes atos eram repudiados moralmente.
Além da consideração do talento como uma manifestação divina – e não pessoal –, os romanos tinham ainda outra motivação, completamente estranha à nossa realidade moderna, para criar: as obras eram consideradas um meio para adquirir fama, o que, por sua vez, faria dos autores figuras imortais.[16]
Hoje, quando a ordem jurídica reconhece ao autor um direito de paternidade sobre a obra, ou ainda um direito à sua integridade ou ao inédito, não o faz em razão de um vínculo do autor com os deuses, ou em razão do reconhecimento da fama como um caminho para a imortalidade, mas antes por razões de natureza completamente diversas. O direito de autor, um fenômeno moderno, parte de pressupostos morais e culturais completamente distintos daqueles que permeavam a sociedade romana antiga. Os antecedentes que encontramos no período da Antiguidade são, sem dúvida, interessantes e instrutivos, mas nem de longe suficientes para explicar o direito de autor moderno.
4. Apesar do reconhecimento de um vínculo moral-religioso entre autor e obra, a noção de proteção do homem como “auctor” não logrou ser incorporada ao sistema jurídico romano. Duas são as teorias que procuram explicar este fenômeno.
A primeira delas destaca o fato de os romanos estarem ainda muito presos à materialidade daquilo que poderia ser objeto de propriedade. O direito de autor, como se sabe, pressupõe uma distinção entre o suporte físico (corpus mechanicum) e a criação intelectual (corpus mysticum).
De acordo com a segunda teoria, os romanos não teriam incorporado ao seu sistema jurídico regras voltadas a proteger o autor em razão da estrutura econômica escravocrata.
Os romanos diferenciavam as ocupações dignas do cidadão livre, as chamadas artes liberales, das outras atividades. Esse sistema elitista só era possível uma vez que se contava com escravos para exercerem todas aquelas atividades indignas do cidadão livre. O exercício das atividades das artes liberales, por sua vez, não admitia uma contraprestação financeira, mas apenas, e no máximo, um presente de gratidão, o chamado honorarium (presente de honra). O honorarium, assim, não representava uma prestação com um valor equivalente ao serviço prestado, mas antes, no sentido exato da palavra honorário, um agradecimento honroso.
O fato de não se agregar ao trabalho do autor um valor econômico impossibilitou o desenvolvimento de concepções propícias ao surgimento de noções referentes à proteção de eventuais interesses patrimoniais do autor ou do editor.[17]
Neste momento é importante esclarecer que as faculdades patrimoniais do autor, como hoje as conhecemos, não devem sua existência apenas à possibilidade da obra incorporada em um suporte físico poder ser oferecida por um preço determinado ao mercado. Pelo contrário, as faculdades patrimoniais do autor estão intrinsecamente ligadas à valoração econômica do trabalho. Neste sentido, o fato de se reconhecer a utilidade econômica da obra literária durante o Império Romano – o Volumen e posteriormente o Codex eram de fato comercializados – não fornece nenhum indício no sentido do desenvolvimento de noções referentes a uma “propriedade literária” em Roma.[18] A mera utilidade econômica do Volumen ou do Codex no mercado poderia, quando muito, ter levado ao desenvolvimento de noções de um direito de editor. Mas nem disso se tem notícia.
O processo que deu origem às faculdades patrimoniais do autor, como será visto no decorrer desta análise, foi extremamente longo e está intimamente vinculado ao reconhecimento do valor econômico do trabalho individual.
No mesmo sentido, também o processo que culminou com o reconhecimento de faculdades pessoais do autor foi repleto de dinamismo. Enquanto na Roma Antiga o vínculo ideal do autor com a sua obra era colorido por traços individuais e sobrenaturais, durante a Idade Média, como será visto a seguir, o sobrenatural afastou completamente o elemento individual. Somente com a superação do teocentrismo e com o desenvolvimento das idéias antropocêntricas, bem como com o triunfo do liberalismo como filosofia e prática de liberdade individual, criou-se espaço para que se desenvolvessem as noções necessárias para a instituição de proteção àquilo que hoje se denomina faculdades pessoais do autor.
III – Idade Média
1. NORBERT ELIAS[19] destaca ser importante observar “que a Idade Média, no sentido mais limitado da palavra, não foi um período estático, a «floresta petrificada», que freqüentemente se julga ter sido”, mas antes uma fase em contínuo movimento. Aquilo que se denomina hoje de sistema feudal foi o resultado de um longo processo que só emergiu com maior clareza no século XII. Este sistema foi inicialmente caracterizado pela falta de uma estrutura estável de poder que se estendesse por toda uma região, o que, por sua vez, gerou desintegração social. Essa desintegração vinha expressa na relação individual de dependência entre vassalo e senhor feudal, ou, em outras palavras, no círculo vicioso de “distribuição de terra em troca de serviços e da subsequente apropriação da terra pelo vassalo”.[20] Ninguém conservava parcela de poder suficiente que permitisse exercitar qualquer ação efetiva.[21] A segunda fase, ao contrário, foi marcada pela lenta reversão daquelas forças de desintegração.
Durante o processo de desintegração, coube à Igreja, única instituição organizada em um período marcado por fragmentação social, assumir as tarefas de educação, de produção de livros, de traduções, compilações, comentários de obras etc. Somado a este aspecto o pensamento teocêntrico, que via na vontade divina a razão de todas as coisas, e a estrutura econômica caracterizada pelo capital improdutivo,[22] em nada foi propiciado o desenvolvimento da noção de um vínculo entre autor e sua obra.
Durante a segunda fase da Idade Média, a lenta reversão do processo de desintegração foi criando condições para o desenvolvimento de uma cultura que espelhava uma nova forma de organização econômico-social. Alguns grandes senhores lograram envolver-se na rede de comércio que começava a surgir. A acumulação de riquezas pelo comércio permitiu a eles escaparem daquele círculo vicioso de troca de terras por serviços de vassalo, um sistema que gerava fragmentação. A concentração de poder nas mãos de alguns foi diminuindo as possibilidades de expansão da sociedade, o que, em contrapartida, levou ao crescimento das cortes medievais. Aqueles que agora não podiam mais valer-se do processo de fragmentação para alcançarem uma posição social melhor, ou, em outras palavras, aqueles agora sem chances de adquirir terras em troca de serviços, se davam por satisfeitos em encontrar abrigo, vestuário e alimentos nas cortes dos grandes senhores contraprestando algum serviço.[23] Este processo de concentração social em torno das cortes medievais gerou o desenvolvimento da cortesia medieval, termo aqui empregado como padrão de comportamento do homem da corte, e da cultura dos cavaleiros, que, a exemplo dos Minnesänger,[24] compunham e cantavam a serviço de um grande senhor e sua nobre dama. Apesar desse período ter sido marcado pelo desenvolvimento intelectual na corte e pela transposição do eixo de produção cultural para fora dos muros dos mosteiros, tal fenômeno ainda não foi suficiente para fornecer os elementos necessários que culminariam no desenvolvimento de um direito de autor.
2. Primeira fase da Idade Média
2.1. Obras literárias
Com o advento do Cristianismo, os escritos passaram a ser considerados como um mero resultado de inspiração Divina. Para determinar este conteúdo divino, partia-se de um duplo sentido das palavras manifestado, por um lado, no sensus literalis ou historicus e, por outro lado, no sensus spiritualis. O sensus literalis representava a manifestação do sinal em si mesmo. O sensus spiritualis, por sua vez, manifestava o sentido espiritual onde se encontraria expresso o verdadeiro significado das palavras.[25]
Partindo daquela premissa, Agostinho de Hipona desenvolveu um esquema hermenêutico básico. Com base na noção de que o mundo real – uma criação divina – conteria sempre uma referência ao sobrenatural, e considerando que a natureza pode ser comparada com um livro que contém os sinais de Deus, Agostinho viu na interpretação da vontade divina expressa nestes sinais a missão da humanidade. Através do exercício de interpretação, os homens estariam em condição de pautar suas ações de acordo com a vontade de Deus.[26]
As palavras em sua acepção de signum, ou seja, em sentido literalis ou historicus, seriam formadas pelos homens. O verdadeiro sentido delas, a chamada res – ou ainda o sentido espiritual –, seria fornecido por Deus.
Com a decadência do Estado antigo, a Igreja restou como a única instituição estruturada e, assim, como a única capaz de fomentar a cultura e o conhecimento. Saber ler e escrever eram faculdades praticamente limitadas aos integrantes do clero. A cultura do livro estava restrita aos espaços dos conventos. E o monopólio da Igreja sobre a cultura ia ainda mais além do que o mero domínio da leitura e da escrita. Fazendo da complexa teoria da interpretação do sensus spiritualis das palavras – que de acordo com João Cassiano deveria ser procurado através da interpretação alegórica, da interpretação tropológica (moral) e da interpretação anagócica (sentido escatológico) – a teoria oficial de interpretação da Bíblia, negou-se ao leigo que porventura viesse a aprender a ler e escrever a aptidão de poder compreender as escrituras, a fonte moral e cultural da sociedade medieval altamente espiritualizada. A forma elitista de tratamento do conhecimento significava enorme poder nas mãos da Igreja. Qualquer interpretação das escrituras que porventura viesse a se indispor com tradição, com a doutrina e com os interesses da Igreja era repudiada. O exercício de interpretação do “verdadeiro” sentido das palavras surgiu neste período como instrumento de poder de poucos sobre muitos. O monopólio da Igreja em relação à cultura ia, assim, muito além da conhecida tarefa dos monges copista.[27]
No que toca a literatura pagã, esta foi, até o século XI, fortemente rejeitada pela Igreja Católica.
Tal postura vem retratada, por exemplo, em uma carta de Jerônimo de Strídon (São Jerônimo) dirigida a Julia Eustochium (Santa Julia), filha da viúva Paula (Santa Paula) que, convertida ao cristianismo, acompanhou aquele santo em uma viagem a Belém, na Judéia.[28]
Tal carta parece ter sido escrita por Jerônimo de Strídon para justificar as acusações lançadas por Rufino da Aquiléia no sentido de que ele teria quebrado um juramento e retornado a se dedicar à leitura de escritos pagãos.
Em tal carta, Jerônimo narra sua experiência como eremita na Síria. Ele conta que a separação de seus parentes e amigos e, pior ainda, da boa comida com a qual estava acostumado havia sido muito dolorida, porém, suportável. Insuportável havia sido separar-se de seus livros e, deste modo, apesar da consciência de estar cometendo uma falta, ele os teria levado consigo para o seu exílio voluntário. A este respeito ele assim se referiu: “E assim eu, a miserável pessoa que eu era, queria jejuar para então poder ler Cícero”.[29]
Em sua narrativa, ele prossegue contando que, consciente do pecado que cometia e depois de noites flageladas pelo remorso, caiu na tentação de ler os escritos de Titus Maccius Plautus e, o pior, após tal leitura o estilo dos apóstolos na Bíblia pareceu-lhe “cru e repugnante”.[30]
Passado alguns dias, durante um delírio febril, Jerônimo teve a visão de ser questionado por Cristo no Juízo Final, quando lhe foi perguntado quem ele era. Jerônimo respondeu ser um cristão. Cristo retrucou afirmando estar ele mentindo e disse: “você é um Cicerone, e não um cristão” (Ciceronianus es, non Christianus). A Jerônimo foi imposta a pena de autoflagelo e, em delírio, Jerônimo gritou: “Senhor, se eu vier a possuir livros mundanos e se eu os pegar com as mãos, então eu estarei lhe difamando”.[31]
Na mesma linha de rejeição, agora à gramática como arte liberal pagã, o Papa Gregório I (São Gregório) assim escreveu ao bispo de Vienne (França), Desiderius: “Nós tomamos conhecimento – o que nós apenas repetimos cheios de vergonha, que você costuma ensinar gramática a determinadas pessoas. Tal fato nos aborreceu e desagradou de tal forma que nós transformamos aquilo que acabamos de dizer em suspiros e preocupações, uma vez que a mesma boca não pode ao mesmo tempo exaltar Cristo e Júpiter. E exatamente por que é tão repugnável que se diga tal coisa de um padre, deve ser provado de maneira irrefutável, se isto é verdade, ou não”.[32]
É evidente que o solo neste momento histórico apresentava-se extremamente infértil para o desenvolvimento de proteção autoral. Sem o reconhecimento da capacidade intelectual individual – a Igreja e a sua teologia eram as únicas verdades reconhecidas – não há espaço para o desenvolvimento de um direito de autor.
2.2. Obras plásticas
A controvérsia sobre os capitéis retrata de maneira exemplar a forma de tratamento emprestada à criação plástica na Idade Média.
Na arquitetura medieval, os capitéis, colunas que formam as arcadas do claustro, local onde os monges estudam a Bíblia, eram geralmente decorados com motivos fitomórficos, e não religiosos. BERNARDO DE CLARAVAL, monge cisterniense e abade do mosteiro de Claraval, assim se manifestou a respeito dos capitéis em uma carta de 1125 dirigida ao abade do convento beneditino de Saint-Thierry:
“O que fazem nos corredores, sob os olhos dos irmãos que ali lêem, estas ridículas monstruosidades, estas deformadas formosidades e formosas deformações? Qual é o sentido dos macacos imundos? Dos leões ferozes? Dos centauros monstruosos? Dos semi-homens? Dos tigres listrados? Dos cavaleiros medievais em luta? Dos caçadores soprando em seus chifres? Vê-se muitos corpos com apenas uma cabeça e outra vez muitas cabeças em apenas um corpo. Aqui um cavalo com um rabo de cobra, ali um peixe com uma cabeça de cavalo. Ali a parte da frente de um cavalo arrasta uma meia cabra atrás de si; aqui um animal com chifres arrasta a parte de trás de um cavalo. Por fim, tão grande a diversidade de formas que ficamos tentados a passar o dia inteiro mirando-as ao invés de meditar sobre as leis de Deus. Por Deus! Se não se envergonharem desta tolice, por que eles pelo menos não se arrependem desta perda de tempo?[33]”
Neste texto vem bem expresso o pensamento dominante da época: apesar de estéticos, o que os capitéis traziam de positivo para o intelecto (leia-se para sentimento religioso)? Nada, absolutamente nada, posto que, acreditava-se, só serviam para excitar “fantasias individuais e irracionais”,[34] o que, consequentemente, levava à conclusão de que seriam supérfluos.[35]
Outro exemplo que merece ser citado envolve a discussão sobre a iconoclastia (destruição de ícones) e a iconofilia (adoração de ícones) durante os séculos VIII e IX. A polêmica aqui girou em torno do debate a respeito da possibilidade de idolatria de ícones, ou seja, de pinturas sacras sobre madeira.
Seria possível expressar em uma pintura a essência de Deus? No Segundo Concílio de Nicéia, em 787, decidiu-se por permitir o culto dos ícones, mas não a sua adoração. Ali também foi definida a relação entre pintor e Igreja: o pintor apenas exercia o ofício, a ars, enquanto que a inspiração criativa, o ingenium, cabia à Igreja.
A ruim tradução em latim dos documentos do Concílio, originariamente redigidos em grego, que chegou às mãos de Carlos Magno deu a entender que aquele Concílio teria permitido a adoração de ícones.[36] Em resposta a esta má compreendida decisão, Carlos Magno encomendou a teólogos francos um documento político-religioso que, posteriormente, foi enviado por ele ao Papa, onde se sustentou o valor pedagógico das imagens como meros instrumentos de instrução religiosa.[37] Uma vez que estas imagens são produto do emprego de artefatos da arte mundana, argumentou-se, o valor dos ícones deveria ser procurado na preciosidade do material empregado, e não na santidade deles.
A despeito da divergência concernente à adoração dos ícones, iconoclastas e iconófilos tinham em comum ver naquelas pinturas uma função religiosa, seja no sentido de exercício religioso (culto), ou no sentido de instrumento pedagógico voltado à instrução religiosa. Além disso, o fato de ser produto de material mundano em tempos de grande espiritualização degradava as pinturas, que neste período expressavam praticamente apenas motivos religiosos, a uma posição de importância inferior em relação àquela emprestada às palavras.[38]
Por fim, se a pessoa do pintor é considerada como um mero instrumento de realização da inspiração criativa da Igreja, a intermediária entre Deus e o mundano, onde haveria espaço para um direito que pretende proteger o esforço criativo do artista?
O direito de autor ainda teve de aguardar a superação do teocentrismo pelo antropocentrismo para poder se desenvolver.
2.3. Sobre o custo de edição de livros e sobre a “cultura da cópia”
O custo de fabricação de um livro na Idade Média era altíssimo. As folhas dos livros eram feitas de pergaminho, produto de um processo de fabricação extremamente moroso. O couro do animal, matéria prima do pergaminho, era tratado longamente até transformar-se em um material branco, liso, macio e fino. As grandes peças de couro assim tratadas eram então cortadas em formato de folhas e encardenadas, formando o chamado Codex, que posteriormente veio a ser substituído pelo livro impresso.
As características naturais do couro influenciavam o resultado do trabalho: o lado do couro que trazia os pêlos dos animais era mais áspero e escuro do que o lado interno da pele e, assim, as pinturas eram feitas preferencialmente neste lado das folhas de pergamento, mais claro e macio, o que permitia a absorção homogênea da tinta.[39]
O preparo de uma Bíblia, por exemplo, exigia não só um rebanho de ovelhas para fornecer o material necessário para o pergamento, mas ainda fazia necessário o trabalho de diversos copistas, técnicos altamente especializados, e de um grande investimento de tempo.
O preço da manufatura de um Codex era tão alto que somente os muito ricos e poderosos poderiam se dar ao luxo do gosto pela literatura.[40] Somando-se a isto o fato de os escritos estarem em latim, o idioma dos eruditos, e o alto índice de analfabetismo, o que incluía os nobres, percebe-se que o livro era um objeto acessível somente às elites.[41] E as elites, como já visto acima, vinham da Igreja ou eram formadas por ela.
O alto investimento necessário para a fabricação de um livro pode, de acordo com GIESEKE, ser considerado como um elemento adicional, ao lado do arcabouço moral extremamente desfavorável, na explicação da falta de consciência dos autores em relação à exigência de um pagamento por sua obra.[42]
Outro aspecto importante no período da Idade Média é aquilo que aqui denominamos de “cultura da cópia”. Naquele período, copiar textos tinha uma conotação nobre, religiosa. A cópia era uma forma de prestar serviços a Deus. Posteriormente, com o desenvolvimento de uma nova postura filosófica centrada na figura do indivíduo, com desenvolvimento do mercado econômico, com a invenção da prensa de tipos móveis e com o surgimento da profissão de gráficos e editores, a valoração moral da atividade de copista ganhou outra conotação. O ato de copiar deixou de ser motivado pela busca de reconhecimento divino e passou a ser exercido com o intuito de lucro e, em contrapartida, o copista perdeu o seu status honroso, transformando-se em um usurpador de direito alheio.
Esta mudança radical do valor moral vinculado ao ato de copiar espelha de maneira sintética e exemplar a dimensão das diferenças radicais entre o pensamento antigo e moderno. Aqui resta evidente porque no início deste ensaio insistimos em nos referir sempre a “fenômenos análogos anteriores a um fenômeno”. Mesmo que o autor medieval se sentisse pessoalmente vinculado a sua obra, o que aqui não se coloca em dúvida – pelo contrário, este sentimento de vínculo parece ser inerente à natureza humana, o fenômeno moderno (direito de autor) parte de um pressuposto moral e cultural completamente diverso do pressuposto moral e cultural medieval (ou daquele que permeava a sociedade romana antiga).[43] O fenômeno antecedente pode ser análogo, mas, como bem diz a expressão “análogo”, não se confunde com o fenômeno moderno.
A idéia de controle de cópias é fundamental para compreendermos a tônica patrimonial do direito de autor, já que através dela é que se viabiliza a exclusividade. O fenômeno moderno, afirma-se então, só começou a se formar a partir do momento de transformação da “cultura da cópia”.
Os fatores que levaram a esta mudança de prisma moral serão desenvolvidos sistematicamente nos itens a seguir.
3. Segunda fase: período entre a Baixa Idade Média e o Renascimento
A segunda fase, caracterizada pela concentração social em torno das cortes medievais, levou ao desenvolvimento de uma cultura cortês e cavaleira. Os senhores abastados necessitavam de homens letrados não só como funcionários administrativos, mas também como veículo de manifestação de sua posição social. Poetas e cronistas, que por falta de um mercado para seus escritos concentravam-se nas cortes, exaltavam em seus versos o poder e a riqueza de seus senhores e a beleza das damas de sua corte. Em uma sociedade de analfabetos, o papel destes artistas foi determinante para o desenvolvimento da produção cultural.
Além destes fatores, outras transformações sociais exerceram um papel importante para o desenvolvimento da estrutura que, posteriormente, criaria condições para o desenvolvimento do direito de autor. Entre eles, destacam-se as questões do idioma vernáculo, do crescimento das cidades e das universidades.
3.1. Vernáculo
A estrutura da sociedade na baixa Idade Média era marcada pela existência de três classes sociais: o clero, a nobreza e o povo. O período de relativa paz iniciado com o fim das invasões bárbaras gerou um aumento demográfico que, por sua vez, levou a instabilização das estruturas econômicas medievais. A solução para este problema foi “ocupar” a mão de obra excedente e a nobreza sem terra nas “guerras santas”, as chamadas Cruzadas. A experiência com as cruzadas, por sua vez, acarretou profundas mudanças para a sociedade medieval, sendo a propulsora de um acelerado aquecimento do comércio e, consequentemente, da formação da burguesia.[44] Por sua vez, a nova classe social formada pelos artesãos, pelos comerciantes, pelos banqueiros, pelos tabeliães etc, necessitava da palavra escrita para o exercício de suas atividades. E por não serem eruditos, e assim não dominarem o latim, escreviam no idioma vernáculo que falavam.
A Idade Média é conhecida como a “idade das trevas”. Em determinado sentido, tal caracterização não parece ser justa. Apesar de a criação cultural medieval ter sido caracterizada por um alto grau de espiritualização e elitismo, não se pode negar ter sido aquele período o berço de manifestações culturais importantes, como a arte gótica, por exemplo.
Se tomarmos, porém, o exemplo do vernáculo escrito, não se há de negar que em determinados aspectos a Idade Média de fato merece ser caracterizada como uma época sombria do ponto de vista cultural. Para tanto, basta ter em mente o período de tempo transcorrido entre o início deste período histórico, que é marcado pela desintegração do Império Romano do Ocidente por volta de 500 a.C., e a primeira poesia escrita em italiano, datada entre os anos de 1189 e 1220 e intitulada “quando eu stava in le tu cathene”.[45]
Além de muito dever ao aparecimento da burguesia, a proliferação de escritos em vernáculo também foi consequência direta do surgimento das ordens mendicantes, cujos monges, ao contrário do que se fazia na Igreja, pregavam no idioma do povo, e não em latim. Este fator impulsionou a quebra do estreito vínculo entre cultura escrita e cultura religiosa.
Por fim, cabe ainda destacar o papel das mulheres nobres em relação à poesia e à literatura. Quanto mais adiantada a Idade Média, maior importância foi ganhando o hábito da leitura feita em voz alta para um grupo de damas da corte. Através deste hábito, o vernáculo foi ganhando espaço também nas cortes.[46]
3.2. Cidades e universidades
O clima intelectual nas cidades medievais neste período era bem diferente do clima do interior. Enquanto as escolas do interior eram marcadas pelo conservadorismo, pelo estudo tradicional da Bíblia, onde não se cogitava colocar a palavra de Deus em dúvida, as escolas nas cidades estavam expostas aos ventos da modernidade. Nelas fomentava-se o pensamento crítico por meio de discussões, que tinham por fim descobrir contradições e superá-las.
Até o século XI os professores lecionavam nas escolas das igrejas. Com o desenvolvimento das cidades surgiram as universidades que, por sua vez, geraram uma nova classe de intelectuais e, consequentemente, um novo círculo de leitores. Este fator incentivou a profissão dos copistas, que deixou de ser exercida exclusivamente por monges. Em outras palavras, e ao contrário dos monges, os copistas das cidades não cumpriam seu trabalho como missão religiosa, mas antes como profissão, como meio de garantir seu sustento.
Além disso, as universidades desencadearam uma revolução na forma externa dos textos.[47] Para o exercício da Studia, os estudantes tinham de ter em mãos os textos que os docentes comentavam durante as aulas. Como a cópia de um livro à mão era muito trabalhosa e a sua produção morosa, criou-se, para responder à crescente demanda por livros, uma nova forma de produção de escritos baseada na confecção das Peciae. A partir do livro a ser usado nas aulas de uma determinada matéria, fazia-se um exemplar autorizado, ou seja, um exemplar corrigido e aprovado por uma comissão de professores. Este exemplar era então dividido em partes soltas, as chamadas Peciae, que, por sua vez, eram entregues aos copistas para que fizessem o número de cópias necessárias para o curso. Quando prontas, estas peças eram entregues aos Stationarii, ou seja, aos livreiros, e estes as alugavam aos estudantes.[48] Este processo de produção de cópias não só permitiu a redução do custo de produção dos livros, mas também permitiu uma produção muito mais ágil dos textos.[49]
A partir do século XII, exatamente no momento em que o eixo do pensamento filosófico começa a se deslocar para a figura do indivíduo, começa-se a ter notícia de manifestações crescentes que refletiam um interesse pessoal do autor em ver sua obra ligada a sua pessoa e um interesse pelo zelo de sua integridade.[50]
Porém, o fato da produção literária ainda estar presa a um círculo vicioso marcado pela escassez de livros, pela produção artesanal e pelo preço alto das edições, o que gerava falta de interesse pela leitura e o que, por sua vez, desestimulava o combate ao analfabetismo, ainda não propiciava as condições necessárias para o desenvolvimento de um interesse de aproveitamento econômico da obra como mercadoria.
Aquilo que hoje chamamos de interesse patrimonial do autor ainda teve de esperar pelas condições adequadas para se desenvolver, nomeadamente pelo incremento da economia de mercado e pelo avanço das tecnologias necessárias para fazer do livro um bem de consumo.
IV – Sobre o intermezzo chamado de Renascimento e sobre o Humanismo
1. O Renascimento, expressão que engloba transformações culturais, políticas e econômicas, marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, manifestou-se primeiramente na região do norte da Itália, de onde, posteriormente, difundiu-se para o resto da Europa.
A inclusão do norte da Itália ao Império Carolíngio e a interminável disputa pelo poder travada entre a Igreja, na figura do Papa, e o Sacro Império Romano-Germânico, na figura do Imperador, permitiu que as cidades do norte da Itália conquistassem nesta dinâmica histórica uma posição estratégica peculiar, que culminou, ao fim da Idade Média, em independência política e econômica.
Enquanto o Sacro Império Romano-Germânico representou perigo para as cidades do norte italiano, a Igreja, representada pelo Papa, figura essencial no jogo político, adversária do Imperador, contou com o apoio dos habitantes das cidades. Porém, com o surgimento da classe dos comerciantes, este balanço perdeu efetividade.
A aristocracia feudal era caracterizada por ser inculta, limitada e bárbara;[51] a Igreja, por sua vez, por conta de sua posição moral e sua formação intelectual superior, logrou ocupar por um longo período a posição de instituição mais apta a combater a desordem política. A classe comerciante que foi surgindo, por outro lado, não só se destacava pelo fato de ser cada vez mais culta, mas também por sua tendência de lutar por independência, o que a levava a desafiar a aristocracia de forma muito mais corajosa e convicta do que o clero. Isto explica a atração que a classe comerciante exerceu sobre o povo das cidades.
A partir do momento em que o Imperador perdeu forças, a figura do Papa como contrapeso político também enfraqueceu, e as cidades do norte italiano, que nesta altura já haviam alcançado um grau significativo de independência econômica, não hesitaram em demonstrar que seu vínculo com a Igreja não era lá coroado de muita convicção. As manifestações culturais e filosóficas que surgiram neste período perderam, assim, seu caráter espiritual. Em termos de estrutura política, as cidades desenvolveram um sistema baseado na liberdade, criando para tanto instituições voltadas à aplicação da justiça. Este clima, somado a um período de paz política, levou ao rompimento radical com a cultura religiosa. A tendência foi ressuscitar a cultura pagã da Antigüidade.
Os sábios de Constantinopla, exilados pela invasão turca, foram acolhidos na Itália de braços abertos, fomentando a redescoberta do platonismo, agora lido no original e não mais pelo filtro neoplatônico ou na interpretação de Agostinho de Hipona.
A ascese da Idade Média foi substituída por uma embriaguez de cultura antiga. A emancipação da autoridade da Igreja reforçou o individualismo até o limite da anarquia moral e política.
A Reforma Protestante e o movimento antagônico por parte da Igreja Católica conhecido como Contra-Reforma, bem como a subjugação da Itália pela Espanha, colocaram um fim ao intermezzo do Renascimento. Porém, apesar do clero protestante reformador poder ser caracterizado como tão retrógrado como o católico, o fato de não ter conquistado poder político nas regiões reformadas fez delas regiões livre de dogmas e controladas por governos laicistas. Isto facilitou a abertura das portas para o domínio da ciência e para a rejeição de elementos animistas, o que gerou, por fim, uma revolução estrutural do pensamento europeu.
2. O Humanismo, um “produto” do movimento iniciado pelo intermezzo do Renascimento, tinha a comunicação como um de seus motes. Os humanistas desejavam a discussão de temas científicos, ou até mesmo de temas políticos. As idéias deveriam ser difundidas. Os livros passaram, assim, a cumprir um papel cada vez mais importante.
É nesta fase que o racionalismo vai ganhando vigor. René Descartes, conhecido como o pai da corrente filosófica racional, rejeitou o pressuposto de compreensão do mundo como a soma de uma série infinita de realidades observadas, defendendo, ao contrário, sua compreensão pela soma de conclusões lógicas. Em outras palavras, a realidade exterior passou a ser reconhecida como um sistema artificial criado pelo filtro da razão daquele que a observa. No lugar de Deus, o homem aparece como a medida das coisas. Do teocentrismo chega-se ao antropocentrismo.
Neste momento, a semente que veio a dar origem ao direito de autor moderno encontrou, pela primeira vez na história, um solo verdadeiramente propício ao seu desenvolvimento.
Neste ponto da análise começamos a nos despedir dos antecedentes do fenômeno para, finalmente, começarmos a compreender quais as circunstâncias que levaram à formação do fenômeno “direito de autor”.
V – Sobre a invenção da prensa de letras móveis e sobre os privilégios de impressão
1. Johannes Gensfleisch, conhecido como Johannes Gutenberg, não foi o inventor da prensa – esta já era conhecida há muito tempo –, mas sim o inventor de tipos móveis de impressão e o responsável pela introdução de melhorias nas prensas gráficas já existentes.
Gutenberg havia sido formado no ofício de joalheiro e, assim, dominava o ofício de preparo de moldes e de fundição de ouro e prata. Valendo-se destes conhecimentos, ele inovou ao construir em metal fundido tipos móveis e individuais para sua prensa. Esta, juntamente com outras invenções de Gutenberg, significou um grande avanço tecnológico, que culminou com o nascimento de uma nova era marcada pela disponibilidade e acessibilidade da informação.
Como se sabe, as invenções de Gutenberg conferiram ao processo de impressão enorme versatilidade, o que veio permitir a produção de livros em escala. Sabemos, porém, que um produto só será produzido em escala se houver procura por ele. E se há procura por ele, no nosso caso dos livros, então se supõe que exista um público alfabetizado e abastado o suficiente disposto a pagar por este produto.
A invenção da prensa de tipos móveis aconteceu exatamente no momento de revolução do modo de organização econômica e social. As mercadorias, que antes eram produzidas para atenderem necessidades pessoais, passavam naquele momento a ser produzidas para serem oferecidas ao mercado.
Com o crescimento do mercado nas cidades, os artesãos passaram a exercer seu ofício como profissão. Estes artesãos e os comerciantes profissionais, por sua vez, atuavam em um mercado em expansão, caracterizado pela circulação do capital. Os filhos destes homens, criados no seio de famílias abastadas, eram enviados às escolas e universidades, formando não só uma classe de intelectuais não mais vinculados à Igreja, mas também um público interessado em adquirir livros.
De forma resumida, as transformações filosófica, social, econômica e tecnológica não só democratizaram o uso do livro naquele período, mas também emprestaram a ele destacado valor como um bem consumo.[52] Os bens de consumo, por sua vez, estão necessariamente vinculados a interesses econômicos que, mais cedo ou mais tarde, sempre reclamam por proteção. No caso dos livros, o processo de impressão e de comercialização exigiu investimentos financeiros consideráveis, que eram colocados em risco frente à possibilidade da reimpressão desautorizada da obra por terceiros. Assim sendo, o primeiro clamor de proteção (econômica) girou em torno da proibição da reimpressão de livros.
2. Com a formação das sociedades organizadas em unidades territoriais, o Estado (e não mais a Igreja) passou a centralizar em suas mãos as competências relativas à cultura, conhecimento e relações comerciais.
SIEGRIST[53] ressalta que, movido por razões políticas voltadas especialmente a fortalecer seu poder, o Estado absolutista e mercantilista procurou incentivar a economia, a ciência e a cultura, garantindo aos empresários que assumiam o risco de produção de edições concessões de proteção individual por meio dos chamados privilégios.[54] Deste modo, ele não só protegia o investimento do editor ao proibir que terceiros colocassem no mercado cópias que concorreriam com aquela edição original, ou seja, aquela edição procedida mediante a compra do manuscrito da obra, mas também tinha sob seu controle o grupo de homens responsáveis pela difusão de informações. O controle que o Estado exercia sobre essa elite ia, porém, muito além da possibilidade de controlar e censurar informações[55], pois pela concessão do privilégio garantia-se também a manutenção do sistema econômico típico do mercantilismo, ou seja, do sistema calcado nas convenções de classes profissionais (corporações de ofício).
3. Ainda no que diz respeito ao privilégio, é importante não cometer o equívoco de acreditar que o recurso de concessão de privilégios foi um indicativo no sentido de uma mudança de valoração da “cultura da cópia”. Apesar de o problema da reimpressão de livros já causar, no século XVI, preocupação econômica, não se colocava em dúvida a liberdade da cópia. Na verdade, o privilégio surgiu como uma medida para ser aplicada a casos excepcionais.
Por um lado, isso ocorreu porque nem toda a impressão estava sujeita à concorrência. Os mercados naquele período eram regionais e não havia profusão de oferta de impressores. Neste sentido, a concessão do privilégio só era necessária naqueles centros onde havia concorrência. Por outro lado, a regra (portanto salvo exceções) não era a concessão de privilégios gerais, mas sim a concessão de privilégios para a impressão de obras determinadas.[56] O risco da reimpressão fazia, assim, geralmente, parte do cálculo do empreendimento.
A “cultura da cópia” foi perdendo legitimidade no mesmo passo em que os mercados foram crescendo e interagindo entre si.
4. Conforme os mercados foram crescendo, o “ofício” de autor foi ganhando cada vez mais importância (prestígio) dentro desta nova estrutura social.
O autor da Idade Moderna vive em um mundo marcado por concepções antropocêntricas. No lugar dos deuses do Olimpo ou do Deus cristão, é agora o indivíduo quem desponta como a medida das coisas. O vínculo do autor com a obra ganhou, assim, um novo caráter, qual seja o de vínculo de natureza pessoal e individual. É, assim, só a partir deste momento que se pode cogitar reconhecer aquilo que modernamente entendemos como “direito moral de autor”.
Como já visto e revisto no decorrer deste ensaio, o reconhecimento moral do prestígio, antes do advento do antropocentrismo, reportava a um conteúdo de natureza sobrenatural e/ou religiosa. Essa forma de prestígio era análoga ao fenômeno de reconhecimento do vínculo antropocentrista do autor em relação a sua obra e, assim sendo, como bem diz a expressão fenômeno análogo a outro fenômeno, não admite que aquele se deixe confundir com este. Neste sentido, rejeita-se aqui a afirmação de que o direito moral de autor tenha sempre existido.[57]
5. Apesar da invenção da prensa de letras móveis ter facilitado o trabalho de edição, o empreendimento de produção de um livro continuava a ser custoso. O impressor, por exemplo, não raro oferecia casa e comida para aqueles envolvidos nos trabalhos de impressão; às vezes até mesmo abrigava o próprio autor, quando a obra era de encomenda. Na primeira fase de uso da prensa de letras móveis, os autores nem ao menos cogitavam exigir do editor um preço pelo seu manuscrito. Pelo contrário, continuavam produzindo na esperança de serem presenteados com um honorário, que era pago, por exemplo, ao autor que dedicava sua obra a um nobre ou clérigo, ou procuravam financiamento de um mecenas. Somente posteriormente, com o incremento das relações comerciais, os autores passaram a receber um pagamento pela venda do manuscrito de sua autoria aos editores.
A proteção jurídica do interesse patrimonial do autor, como hoje o entendemos, foi o resultado de um processo cultural e econômico lento e longo. Ela somente pôde ser instituída no momento em que a prática de concessão de privilégios foi superada, o que significou dar ênfase – falar aqui em substituição seria ir longe demais, pois o direito de autor só é apenas “de autor” no que toca a sua denominação; os interesses da classe especializada na exploração deste direito sempre foram e continuam a ser protegidos – aos interesses do autor em detrimento aos do editor, como era feito pela prática da concessão de privilégios.
Nesse sentido, o processo de passagem da concessão do privilégio para o reconhecimento de um direito patrimonial ao autor, como será analisado com mais vagar a seguir, significou a adoção de uma nova perspectiva de proteção.
6. Com o acelerado desenvolvimento do mercado econômico, a concessão de um privilégio – que, no que toca casos específicos e territorialmente limitados, até poderia vir a ser descrita como efetiva no que diz respeito à regulação de uma relação de concorrência –, foi se tornando cada vez mais inefetiva.
Um episódio interessante que retrata esta dinâmica é narrado por VOGEL e merece ser aqui reproduzido.
Lembrando que na Alemanha do século XVII o comércio de livros estava concentrado na cidade de Leipzig, na Saxônia, VOGEL[58] conta que, com o enfraquecimento do poder do Imperador, a tendência foi de, especialmente após a guerra dos trinta anos (1618 até 1648), reconhecer prioridade aos privilégios concedidos pelos senhores feudais frente àqueles reconhecidos pelo Imperador.
Naquela época, ainda ensina o autor alemão, as editoras costumavam comerciar entre si praticando a troca de livros; apenas o saldo restante era quitado em dinheiro. Tendo em conta este hábito comercial, uma visita à feira de livros de Leipzig era importantíssima, uma vez que os editores procediam as trocas de mercadorias (livros) durante aquele evento. Além disso, uma visita à feira era necessária para conseguirem a concessão de privilégios de impressão, que dependiam de uma rubrica da Comissão de Livros de Leipzig e que, de acordo com seu conteúdo, obrigavam os editores a imprimir os livros na Saxônia.
Este sistema, evidentemente protecionista, levou à concentração de poder nas mãos dos editores saxões que, especialmente no fim do século XVIII, não hesitaram em abusar de sua posição econômica vantajosa, oferecendo aos autores, cujas obras e estilo correspondiam aos gostos dos leitores da época, honorários altíssimos.[59] Paralelamente, decidiram suspender o sistema de troca de moldes de impressões de seus livros modernos pelos moldes dos livros de motivação religiosa, temas tipicamente adotados nas publicações do sul do território alemão, naquela época ainda politicamente dividido, mas unido por um mesmo idioma. Dos editores do sul esperava-se, então, que pagassem o preço completo pelos cobiçados livros editados no norte. Tal atitude, que desde o início do século vinha sendo motivo de queixas isoladas junto às autoridades, culminou nos anos 80 com uma atitude radical dos editores do sul, que com o aval das autoridades locais passaram simplesmente a reeditar os livros privilegiados imprimidos no norte.
O problema da reimpressão, que gerava grandes perdas econômicas para os editores do norte, foi resolvido naquele momento por um acordo de reconhecimento recíproco dos privilégios concedidos regionalmente (posteriormente, já mais perto do nosso tempo, com o aquecimento do comércio internacional, lançou-se mão do mesmo modelo para solucionar o problema da cópia a nível internacional). Os territórios do sul foram, assim, forçados a respeitar os privilégios concedidos no norte.
VOGEL não narra nem os detalhes do acordo, e nem suas consequências para os territórios do sul. Pensando a respeito da solução adotada, resta evidente que o simples reconhecimento recíproco dos privilégios só produz efeitos paliativos. Com esta solução, os editores dos territórios do sul não passaram necessariamente a gozar de uma melhor posição econômica. Objetivamente falando, a unificação da proteção apenas colocou em pauta a possibilidade de os mesmos terem de arcar com consequências jurídicas caso persistissem a violar os direitos dos editores do norte. Se o aparato do Estado esteve em condições de punir de maneira exemplar as violações dos privilégios de edição, então se supõe ter o editor do sul pensado duas vezes antes desrespeitar aqueles direitos e lançar no mercado a reimpressão de uma edição protegida. A motivação aqui teria sido puro temor das baionetas, o que só se deixa sustentar enquanto as baionetas estiverem erguidas e determinadas a punir (nos dias de hoje, a nível internacional, tais baionetas têm forma de sanções econômicas).
Outra situação ter-se-ia colocado se o legislador tivesse não só decidido pela unificação da proteção, mas, além disso, tivesse tido o cuidado de traçar limites dentro dos quais o privilégio poderia ser exercido, impedindo, assim, que a proteção concedida fosse utilizada de forma abusiva. Frente a um sistema equilibrado, presume-se, o editor do sul passaria a respeitar o exclusivo do editor do norte com convicção, e não mais apenas por temor às baionetas. Essa consideração nos parece ser muito atual. Porém, uma vez que aqui tratamos da análise histórica do direito de autor, as deixamos de lado, reservando o tema para ser explorado em outra ocasião.
VI – Sobre a questão da censura
O conhecimento é um catalisador do pensamento crítico. Com o advento da prensa de letras móveis, que fez da cultura um bem acessível às massas, as classes dominantes desenvolveram uma fobia em relação à letra impressa. A difusão de idéias revolucionárias em tempo de instabilidade social representa perigo para as autoridades. O instrumento da censura é uma medida voltada à contenção da difusão do pensamento crítico. Onde não há pensamento crítico, não há revolução.
A política de concessão de privilégios andava, já desde seus primórdios, de mãos dadas com a noção de controle de difusão de idéias. O caminho entre a entrega do manuscrito e a impressão da obra era complexo e lento. Os manuscritos deveriam ser apresentados para a apreciação dos censores e, somente depois de feitas as modificações que por ventura viessem a ser tidas como necessárias, eram liberados para impressão. Após a impressão, o livro deveria voltar às mãos dos censores, que agora cuidavam de verificar se as alterações por eles exigidas haviam sido cumpridas ou não.[60]
As medidas dos censores nas colônias espanholas e portuguesas, cuja situação política de dependência da metrópole criava uma situação política delicada, são exemplares desta preocupação de controle das idéias potencialmente críticas.
Os livros de ficção, por exemplo, eram proibidos nas colônias. Em 1531, por Cédula Real expedida na Villa de Ocaña, a Rainha da Espanha se dirigiu aos oficiais reais ordenando:
(1530) “Yo he seydo ynformada que se pasan a las yndias muchos libros de Romance de ystorias vanas y de profanidad como son el amadis y otros desta calidad y por que este es mal exercicio para los yndios e cosa en que no es bien que se ocupen ni lean, por ende yo vos mando que de aquí adelante no consyntays ni deys lugar a persona alguna pasar a las yndias libros ningunos de ystorias y cosas profanas salvo tocante a la Religions xpiana e de virtud en que se exerciten y ocupen los yndios e los otros pobladores de las dichas yndias (…)[61]
Em outra ocasião, em 1535, assim proferiu:
(1535) “(…) no se llevassem a esas partes libros de Romance de materias profanas y fabulosas, por que los indios que sopiesen leer no se diesen a ellos dejando los libros de sana y buena doctrina, y leyéndolos no aprendiesen en ellos malas costumbres y vicios; y también porque desque supiesen que aquellos libros de Istorias vanas habian sido compuestos sin haber pasado, ansi no perdiesen la autoridad y crédito de Nuestra Sagrada Scriptura y otros libros de doctores Sanctos, creyendo como gente no arraigada en la Fee, que todos Nuestros livros eran de una autoridad y manera. [62]
Posteriormente, em setembro de 1556 e em agosto de 1560, duas Cédulas Reais proibiram que “se imprima, ni venda ningúm libro que trate de materia de indias, no tenendo especial licencia despachada por nuestro Consejo Real de Indias”.
No âmbito da censura eclesiástica, a inquisição espanhola representou um papel muito importante. Com o advento da prensa de tipos móveis, criou-se um mercado de literatura pagã, o que incluía escritos tidos pela Igreja Católica como heréticos. A lista de livros proibidos era extensa e incluía as publicações de Lutero, de Calvino, as publicações do Talmud ou do Corão, os livros de superstições, entre muitos outros.
O trabalho de perseguição dos hereges incluía não só o controle sistemático dos autores, mas também do impressor, do livreiro e do leitor de escritos heréticos. Enquanto a coroa tentava controlar a produção de impressos permitidos por meio da concessão de privilégios, a Igreja valia-se da estrutura da inquisição para controlar a edição de livros proibidos.[63]
VII – Do privilégio para o direito de autor
1. A análise do deslocamento da proteção, que na forma do privilégio se concentrava na pessoa do editor, para a pessoa do autor será feita aqui a partir de um trabalho escrito, em 1736, por Denis DIDEROT. Este trabalho, um memorial encomendado pela comunidade de livreiros parisienses através de seu síndico, Le Breton, revela a preocupação deste grupo de empresários com uma possível supressão dos privilégios editoriais.
CHARTIER[64] fornece as seguintes informações relativas aos acontecimentos que impulsionaram a encomenda do panfleto: o Conselho Real francês havia outorgado às descendentes de La Fontaine o privilégio das edições de suas fábulas. Deste modo, o privilégio de publicação destas obras, que anteriormente havia sido concedido a livreiros franceses, foi anulado. Este episódio levou a comunidade dos livreiros de Paris ao pânico. A reação foi encomendar ao enciclopedista um manuscrito que levantasse os argumentos necessários para legitimar a “permanência inalterável” dos privilégios dos editores.[65]
DIDEROT, conta ainda CHARTIER,[66] vivia às turras com os editores parisienses:
“A cada contrato assinado com os editores da Enciclopédia (em 1747, 1754, 1758 e 1762), era com muita dificuldade que conseguia arrancar condições menos medíocres daqueles que eram assalariados e a quem chamava de meus corsários. Em 1764, a situação ficou ainda pior, quando ele percebeu que Le Breton havia mutilado à sua revelia certos artigos do dicionário, após a correção das provas”.
Além do difícil relacionamento pessoal com livreiros, DIDEROT ainda defendia posições políticas liberais. Ele era conhecido como um “adversário convicto” das corporações e dos monopólios.[67] Apesar deste, em suas próprias palavras, “paradoxo”, ele aceitou elaborar o manifesto. As razões que o levaram a aceitar o desafio, razões engenhosas, ficam claras no decorrer da leitura da sua “Carta sobre o comércio do livro”.
Na “Carta”, DIDEROT defende longa e inflamadamente que a obra é o fruto do trabalho do autor e, assim sendo, sua propriedade. O livreiro, por sua vez, adquire tal direito do autor – do proprietário da obra – através do ato de venda e entrega do manuscrito. O negócio aqui realizado seria similar ao da transação de venda de uma casa. Ao rei caberia garantir e proteger a transação consignada em um contrato privado.
Argumentando desta forma, DIDEROT virou às avessas a definição tradicional do privilégio.
Em suas próprias palavras:
“Com efeito, que bem pode um homem possuir se uma obra do espírito, fruto único de sua educação, de seus estudos, de suas noites insones, de seu tempo, de suas pesquisas, de suas observações; se as mais belas horas, os melhores momentos de sua vida; se seus próprios pensamentos, os sentimentos de seus corações, sua porção mais preciosa, aquela que nunca morre, que o imortaliza, não lhe pertence? Como comparar o homem, a própria substância do homem, sua lama, e o campo, a pastagem, a árvore ou a vinha que a natureza ofereceu no início igualmente a todos, de que o indivíduo só pôde apoderar-se pela cultura, o primeiro meio legítimo de posse? Quem teria mais direito de dispor de sua coisa pelo dom ou pela venda do que o autor?”.[68]
O que DIDEROT esperava é que o Estado, ao invés de conceder à revelia do autor direito de exploração econômica da obra, sancionasse o contrato privado garantindo, assim, o seu respeito erga omnes.
Por sua vez, o direito de propriedade, ou seja, a possibilidade sancionada e garantida ao autor, pelo rei, de dispor do manuscrito da obra por contrato privado, seria expressão de um direito fundamental do cidadão, ou seja, um direito político.
Partindo de tal construção, DIDEROT atacou as corporações de ofício afirmando que se a propriedade privada e a liberdade de contratar são garantidas pelo rei, então as corporações e os privilégios poderiam simplesmente desaparecer sem que, assim, a ordem econômica anterior fosse modificada. Em outras palavras, o reconhecimento da propriedade do autor faria da corporação de livreiros que o contratou uma instituição supérflua para o bom andamento do mercado.[69] Não é de admirar terem os livreiros apenas apresentado o manuscrito para as autoridades governamentais competentes depois de terem modificado seu conteúdo.
Na carta sobre o comércio do livro, DIDEROT lançou mão de brilhante argumentação, explorando o veio econômico dos livros como mercadorias e a importância social da atividade econômica dos livreiros.
De plano, procurou afastar o argumento de que o reconhecimento de um direito de propriedade do autor sobre sua obra poderia vir a prejudicar o interesse geral, seja criando um monopólio, seja servindo de entrave para o progresso dos conhecimentos em geral. Para tanto, esclareceu que a propriedade do autor estaria restrita ao conteúdo específico de cada obra, ou seja, ela não seria capaz de monopolizar um determinado tema, mas, pelo contrário, deixaria aberta a possibilidade de que outros autores viessem a escrever sobre o mesmo tema.
Para destacar a importância econômica da proteção das obras, DIDEROT cuidou de tratar em seu manuscrito sobre a questão da “pirataria” de edições na França, ilustrando a situação com as seguintes palavras:
“com efeito, os Estienne, os Morel e outros hábeis impressores mal acabavam de publicar uma obra cuja edição fora preparada a custos elevados e cuja execução e escolhas justas lhes assegurariam sucesso, e a mesma obra era reimpressa por pessoas incapazes que não possuíam nenhum de seus talentos, e que, sem nenhum custo, podiam vendê-la a um preço mais baixo, aproveitando-se assim dos adiantamentos e das noites insones dos hábeis impressores sem terem corrido nenhum de seus riscos. O que aconteceu? O que devia acontecer e sempre acontecerá. A concorrência fez com que a mais bela das empresas se tornasse ruinosa; eram necessários vinte anos para escoar uma edição, enquanto a metade do tempo teria bastado para escoar duas. Quando a contrafação era de qualidade inferior à edição original, como era habitualmente o caso, o contrafator vendia seu livro a baixo preço; a indigência do homem de letras, triste condição a que sempre retornamos, preferia a edição mais barata à melhor. O contrafator não ficava muito mais rico, e o homem empreendedor e hábil, esmagado pelo homem inepto e ávido que o privava de modo inesperado de um ganho proporcional a seus cuidados, seus gastos, sua mão-de-obra e aos riscos de seu ramo, perdia seu entusiasmo e sua coragem”.[70]
Reconhecer o negócio jurídico entre autor e editor, garantindo a este último, através do reconhecimento da exploração exclusiva do manuscrito por ele adquirido, seria, na opinião de DIDEROT, indispensável para a sobrevivência do próprio mercado livreiro. Para provar tal afirmação, tratou de enumerar os efeitos desastrosos que resultariam do estabelecimento de uma “concorrência generalizada”.[71]
Sem o reconhecimento e a garantia de um direito exclusivo, aqueles livreiros não teriam possibilidade de obter lucro, já que as várias edições de uma mesma obra compartilhariam um mesmo mercado de consumidores. Nenhum livreiro desejaria investir em publicações que envolvessem altos custos, posto que temeriam que a concorrência de edições os impossibilitasse de compensar os investimentos necessários para a edição de tais obras. “A obra proveitosa ao proprietário exclusivo cairá absolutamente na improdutividade, tanto para ele quanto para os outros”.
DIDEROT prosseguiu destacando que, diante de tais circunstâncias, só seriam editadas obras de baixa qualidade, pois, sendo a produção barata, o risco de prejuízo seria minimizado. Tal situação representaria um desastre para a economia nacional, uma vez que levaria as empresas vinculadas ao mercado de edição (fábrica de papel, de fundição de tipos etc.) a definharem.[72] E ainda, preocupado com a indústria nacional, argumenta: “é que, à medida que estas artes definharão por entre nós, elas serão aprimoradas no estrangeiro, que não tardará em nos fornecer as únicas boas edições a serem feitas de nossos autores”. [73]
Os malefícios desta política não seriam assim apenas limitados ao círculo dos editores, mas também atingiriam o próprio Estado, que perderia a indústria de edição, já que os livreiros prefeririam não mais editar, mas apenas comercializar as obras impressas no estrangeiro: “o Estado se empobrecerá pela perda de seus artífices e pela queda das matérias que seu solo produz, e o senhor mandará para fora de seu território o ouro e a prata que seu solo não produz”.[74]
Além de defender um direito de propriedade do autor sobre a sua obra e de destacar a função econômica do exclusivo de exploração econômica, DIDEROT ainda seguiu uma terceira linha de argumentação, onde procurou traçar um novo esboço do literata, ou seja, do homem que vive de seus escritos. Ele defendeu a necessidade de remuneração justa pela transmissão da propriedade da obra aos editores e lembrou que tal direito do autor só poderia ser bem remunerado se ao editor fosse garantido pelo Estado o exercício pacífico do exclusivo. Se o editor não tivesse a certeza de poder exigir que sua exclusividade fosse respeitada, então o trabalho do autor não teria valor para garantir o seu sustento. O privilégio, sob este aspecto, seria o pesadelo dos autores.[75] A insegurança que o caráter de concessão empresta ao exercício do exclusivo se refletiria no valor econômico da obra no momento de sua passagem das mãos do autor para as do editor. O remédio para tal situação seria o reconhecimento de um direito de propriedade.
2. A “Carta sobre o Comércio do Livro” foi escrita no auge do movimento expresso pelo grito de batalha de Gournay, adotado como lema pelos fisiocratas: Laissez-faire![76]
Os fisiocratas, por sua vez, defendiam o fim das restrições e o comércio livre, e a noção da propriedade privada exercia função basilar do pensamento de sua teoria econômica. Estes, como ensina HUBERMAN[77], abordavam todos os problemas econômicos sob o ângulo de seus efeitos na agricultura. A propriedade privada, para eles, era a expressão da liberdade ou, em outras palavras, o direito do indivíduo de fazer o que bem desejasse de sua propriedade, plantando o que lhe aprouvesse, vendendo onde quisesse. Assim, acreditavam no comércio livre.
Os privilégios eram filhos do modelo econômico mercantilista; a noção de propriedade do autor, por sua vez, é uma das filhas do liberalismo. A tônica do mercantilismo era dada pelo controle, pelo monopólio e, consequentemente, pelo privilégio. A tônica do liberalismo, por sua vez, foi dada pela liberdade e a propriedade foi, dentro desta dinâmica, um meio, um instrumento encontrado para garantir tal liberdade.
3. Resumidamente, os principais pontos do memorial de DIDEROT:
a) O autor é o proprietário da obra e, portanto, goza de liberdade de dispor dela da forma que bem lhe aprouver (propriedade = liberdade de comércio).
b) Quando os direitos de exploração foram adquiridos por meio de negócio jurídico firmado com o autor, a liberdade do autor de dispor de sua obra ao seu bel prazer legitima sua exploração econômica pelo editor. Tal construção é importantíssima. Ela concilia a noção que circulava naquela época com força ideológico-instrumental, de que os sujeitos têm um direito de usufruir o fruto de seu trabalho (propriedade), com o fato de os editores explorarem frutos de um trabalho alheio. Aqui, repetimos mais uma vez, trata-se de legitimação do direito dos editores de explorarem exclusivamente criações alheias.
c) Importância econômica da sanção do Estado ao negócio jurídico de disposição do direito de propriedade sobre a obra. A não garantia deste negócio privado pelo Estado significaria retrocesso econômico e desvantagem não apenas para os diretamente atingidos (autor e editor), mas para a generalidade. Aqui também um elemento fundamental para a compreensão do direito patrimonial do autor: o direito patrimonial de autor é uma engrenagem dentro do sistema de mercado. Seja protegido de menos – pirataria –, seja protegido demais – monopólios gerais de impressão –, os efeitos são nocivos não só para o particular, mas para o sistema como um todo (proteção como instrumento de fomento do desenvolvimento econômico).
d) Importância da segurança jurídica como fator de estabilização do valor do trabalho. DIDEROT demonstra que o autor só poderá vender o seu trabalho por um “preço justo” se o Estado garantir ao comprador a exploração econômica da obra sem ser perturbado por terceiros. Fatores que venham influenciar a exploração econômica da obra pelo comprador, tomem eles forma de proteção insuficiente ou demasiada, prejudicam o autor economicamente.
O trabalho de DIDEROT surpreende não só pela lucidez da análise, mas também pelo fato de a mesma, apesar de ter sido elaborada há mais de 250 anos, ainda ser dotada de grande atualidade.
A decisão subsequente do legislador, de reconhecer ao autor um direito de propriedade sobre a sua obra, foi uma escolha ideológica.[78] Reconhecer a inviolabilidade da propriedade privada foi uma forma indireta de reconhecimento da liberdade econômica, o mote da economia de mercado.
Aqui, neste período e nestas circunstâncias, é que nasceu o direito de autor.
VIII – Sobre a propriedade imaterial e sobre as faculdades pessoais do autor
1. Como ilustrado acima, com o exemplo do comércio de livros entre o norte e o sul da Alemanha do século XVIII, o sistema de proteção da empresa de edição baseado na concessão de privilégios não foi suficiente para fazer frente à nova realidade econômica européia. Foi necessário ir mais além do que a tentativa de solucionar a questão dos interesses individuais que reclamavam proteção. A solução encontrada foi uma construção jus-filosófica complexa, que por um lado considerou a obra intelectual como um bem imaterial com valor patrimonial e, por outro, reconheceu ao autor também proteção a interesses ideais.
Ao lado de DIDEROT, outros grandes nomes tomaram posição quanto ao direito que caberia ao autor. Assim, por exemplo, os trabalhos de Johann Stephan PÜTTER (“Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts geprüft” – 1774) e Johann Gottlieb FICHTE (“Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks” – 1793)[79].
O trabalho de PÜTTER, a exemplo de DIDEROT, foi uma encomenda de editores e, seguindo o mesmo raciocínio do trabalho do enciclopedista francês, PÜTTER defendeu serem as obras verdadeira propriedade, propriedade esta que nasceria da habilidade e da diligência do autor. VOGEL já reconhece nesta definição a noção de propriedade imaterial.[80]
Vinte anos mais tarde, foi a vez de FICHTE manifestar-se sobre a questão. O filósofo diferenciou duas características essenciais do livro: uma característica física, que se expressa no papel impresso, e uma característica intelectual.
A propriedade sobre o corpo físico de um livro, argumentou FICHTE, é transferida pelo ato da venda de forma definitiva às mãos do comprador. O comprador, diz ele, “pode lê-lo e emprestá-lo quantas vezes o desejar, pode revendê-lo para quem ele bem desejar, e tão caro ou barato quanto ele quiser ou puder, (pode) rasgá-lo, queimá-lo; quem poderia se opor?”.[81]
Por outro lado, disse FICHTE, normalmente não se compra um livro para, com suas páginas impressas, decorar paredes, mas geralmente para tirar um proveito intelectual dele. Neste ponto, diferencia entre um conteúdo material do livro (idéia) e a forma de expressão deste conteúdo.
O conteúdo material do livro só pode vir à tona através da leitura. Lendo o livro, o leitor irá refletir sobre o conteúdo, incorporando-o, assim, às suas próprias idéias. Pelo ato de compra do livro, o comprador adquire também a possibilidade de incorporar a idéia do autor às suas próprias idéias. Imaginando que o autor tenha tido uma idéia nova, ou original (o que, geralmente, como destaca FICHTE de maneira inequívoca, não é regra, mas sim exceção), no momento em que a torna pública permitiria a todos aqueles que venham a ler o livro incorporarem as suas próprias idéias àquela. A idéia, então, será propriedade de todos. Deste modo, seria impossível reconhecer um direito exclusivo sobre ela. [82]
Por outro lado, a forma de expressão da idéia é própria do autor. O leitor, ao ler o livro, incorpora a idéia e não a forma específica de expressão da idéia adotada pelo autor. Neste sentido, a forma de expressão da idéia seria “propriedade exclusiva” do autor.
No trabalho de FICHTE estão os primórdios do desenvolvimento de conceitos básicos que sustentam o instituto de Direito de autor.
No que diz respeito à caracterização das faculdades exclusivas transferidas pelo autor ao editor, FICHTE não as classificava como uma propriedade, mas antes como o direito de tirar vantagens econômicas do corpo físico do livro, ou seja, do papel escrito (manuscrito). O autor, por não poder transferir a parte do seu direito de propriedade contido na forma de expressão da idéia, um direito inalienável, não poderia transferir ao editor o seu direito de propriedade como um todo, mas antes apenas autorizá-lo a usufruir de determinadas faculdades dele originárias.
Neste ponto divergem FICHTE e DIDEROT, e o mais interessante aqui, do ponto de vista histórico, é, ao considerar a legislação autoral moderna, constatar que, enquanto o direito autoral francês foi construído com base na teoria dualista, o direito autoral alemão calcou-se na teoria monista.[83]
2. No que diz respeito ao vínculo pessoal do autor com a sua obra, o pensamento antropocentrista cuidou de afastar definitivamente as noções que pretendiam fazer do autor um mero instrumento de forças sobrenaturais. Na verdade, e seguindo aqui o postulado por SIEGRIST,[84] ao influenciarem não só a moral, mas também o senso estético, as idéias antropocentristas lançaram uma nova luz sobre a pessoa do autor. Passou-se a compreender o trabalho do artista não mais como uma mera imitação da natureza, e o trabalho do escritor não mais como uma representação da verdade através das regras tradicionais da retórica. O autor passou a ser considerado como um criador, como o sujeito que, através da sua atividade formadora, traz à luz uma expressão de si mesmo. A partir de então, a obra veio sendo considerada como uma expressão da própria pessoa do autor e, consequentemente, clamou também ser protegida em relação a este aspecto pessoal.
Esta mudança no pensamento já se deixava antever, no século XVI, no teor dos privilégios. VOGEL noticia um regulamento veneziano, datado do ano de 1544, onde a concessão do privilégio veio vinculada expressamente à prévia autorização de publicação da obra pelo autor.[85] Por outro lado, essa não era a regra. LUCAS e LUCAS contam que, apesar do dramaturgo francês Moliére ter se oposto à publicação de sua obra Les précieuses ridicules, o editor Guillaume de Luynes obteve não só a concessão do privilégio para publicá-la, como também para vendê-la por cinco anos.[86]
Na Alemanha, os privilégios de impressão vinham acompanhados da expressão cum consensu auctoris. Além disto, têm-se notícias de casos de representações dirigidas ao governo, onde autores reclamavam edições não autorizadas de suas obras (Lagus em 1563; Christian Thomasius em 1694, Boerhave em 1726), bem como representações contra modificações (omissões não autorizadas na obra — Sebastian Brant, 1499).[87]
Com relação às modificações não autorizadas, um problema de fato corriqueiro, assim manifestou-se MARTIN LUTHER: “o prejuízo seria, porém, de se suportar, se eles não arrasassem meus livros de forma tão falsa e vergonhosa. Eles mesmos os imprimem e, portanto, tem pressa, de forma que, quando retornam a mim, eu não mais reconheço meus próprios livros”.[88] O que não teria significado para LUTERO, um reformador em missão revolucionária religiosa, ver as suas palavras, sua argumentação, modificadas?
Em tempos em que os escritos haviam de passar pelo crivo da censura, o autor tinha um interesse especial no respeito à integridade de sua obra. Modificações não autorizadas na obra poderiam levar, à revelia da verdadeira opinião do autor, à proibição da obra, além de colocar a própria pessoa do autor em uma situação delicada perante as autoridades.
3. Formada a consciência de um direito que caberia ao autor considerado como tal, e promulgadas as primeiras leis sobre a matéria, que, nota-se, ainda se caracterizavam por protegerem apenas os interesses patrimoniais dos autores, o século XIX foi marcado por intensas discussões e pelo clamor de alguns pela extensão da proteção autoral já alcançada. Outros, pelo contrário, já argumentavam com a máxima de que a cultura é um bem da humanidade.
Neste clima de intensas discussões, OTTO VON GIERKE tratou de explicar o direito de autor sob uma nova perspectiva, agora idealista. Ele via o fundamento do direito na prerrogativa do autor de decidir sobre a divulgação de sua obra. VON GIERKE, como observa VOGEL,[89] não negava os componentes patrimoniais do direito de autor, mas os compreendia como um mero reflexo do âmbito do domínio pessoal daquele. Nesta construção vem expresso de forma exemplar o ápice da concepção do indivíduo em si considerado como a base, o ponto de partida, para a construção do Direito.
Motivados pelas teorias idealistas, reconheceu-se juridicamente, ao lado da proteção das faculdades patrimoniais do autor, proteção às suas faculdades pessoais.
Neste momento o direito de autor finalmente tomou a forma que ainda mantêm até os dias de hoje.
IX – Conclusão ou, em outras palavras, por que proceder a uma análise histórica?
O direito de autor, como vimos, é um filho do antropocentrismo, do pensamento liberal e de uma estrutura econômica peculiar. Ele é, definitivamente, um fenômeno moderno.
Mas por que proceder a uma análise histórica? Apenas para demonstrar que antes da Idade Moderna o direito de autor não existia? Que antes desse período histórico só podemos nos referir a um “fenômeno análogo anterior” ao direito de autor? Por certo, e aqui sem menosprezar o caráter instrutivo dessa conclusão, não só sob o ponto de vista do conhecimento geral, mas também sob o aspecto metodológico, não apenas por isso. Mas antes porque a análise histórica abre vistas para que percebamos o direito como ele é, ou seja, como um produto cultural.
No decorrer deste ensaio, constatamos que, em um primeiro momento, as mudanças filosófico-econômicas e o avanço tecnológico criaram uma nova situação fática; o direito de autor, por sua vez, surgiu em um segundo momento, reconhecendo e regulando juridicamente a nova situação.
O direito de autor – a análise histórica deixou evidente – nasceu então como resposta jurídica a determinadas transformações sociais.
A compreensão deste mecanismo deixa entender a crise moderna que vem envolvendo o direito de autor: as transformações sociais já ocorreram, o direito de autor, ainda agarrado a sua forma tradicional, não logrou reconhecer a nova realidade e, assim, não está em condições de fornecer respostas jurídicas a ela.
Mas também a análise histórica nos permite afirmar que o direito acaba sempre por se adaptar a realidade. É tudo uma questão de tempo.
[1] ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Formação do Estado e civilização. Volume II. Rio de Janeiro: Jorge Yahar Ed., (1993), pág. 36.
[2] CALMETE, apud ELIAS (1993), pág. 37.
[3] Ilustrando: o que hoje é conhecido como direito moral de autor pressupõe o conceito jurídico moderno de personalidade, ou seja, aquela noção de aptidão humana geral para adquirir direitos e deveres. Tal noção é impensável em uma sociedade escravocrata como a do Império Romano. Ou ainda, outro exemplo, quando Martinho Lutero reclamou a falsificação de seus textos, certamente não o fez movido pelas mesmas convicções que levou o grupo Rolling Stones a acusar o grupo inglês The Verve de ter utilizado ilicitamente em seu sucesso “Bitter Sweet Symphony” um pequeno trecho da melodia da canção “The Last Time”. Enquanto Martinho Lutero vivia em uma sociedade teocêntrica, onde o indivíduo pouco valia frente à grandeza de Deus, os integrantes do grupo Rolling Stones vivem em um mundo onde a natureza é dominada e instrumentalizada pela “grandeza” do indivíduo.
[4] Se estivéssemos nos referindo a um mesmo conteúdo do direito não falaríamos sobre fenômenos análogos anteriores ao fenômeno, mas antes apenas em fenômeno.
[5] O termo fenômeno é aqui empregado no sentido de um processo de abstração colocado em contraposição a um noumeno, ou seja, no sentido de objeto de uma intuição não sensível.
[6] Nos anos 60 do século passado, POHLMANN publicou na Alemanha uma série de trabalhos onde defendia a tese de que os privilégios de edição do século XVI já protegiam interesses patrimoniais do autor. Posteriormente, afirmou, esta tendência teria recuado em razão da recepção do direito romano no território de língua alemã. Uma das razões principais que levou POHLMANN a desenvolver tal tese foi a interpretação da expressão “consensus autoris”, que costumava aparecer nos textos dos privilégios e que vinha vinculada a autorização de impressão das obras, como um indício de reconhecimento de interesse de natureza patrimonial. BAPPERT revidou a tese desenvolvida por POHLMANN com um estudo profundo da matéria, e uma das críticas feitas ao trabalho de POHLMANN foi calcada no fato dele interpretar a expressão latina mencionada partindo de sua conotação moderna. Nas palavras de GIESEKE, Ludwig, Vom Privileg zum Urheberecht: die Entwicklung des Urheberechts in Deutschland bis 1845, Göttingen: Schwartz, 1995, pág. 69, “se colocamos as posições [de POHLMANN E BAPPERT] frente a frente, percebe-se claramente na argumentação de POHLMANN o esforço de já encontrar nos privilégios e nos documentos do século XVI por ele pesquisados elementos do direito patrimonial de autor moderno. Bappert, ao contrário, argumentou de maneira sóbria, com base naquilo que pode ser provado. Sobriedade é, com certeza, um fator necessário para a valoração dos primeiros privilégios de impressão alemães”. A crítica de ELIAS é perfeita em relação ao trabalho de POHLMANN, que se preocupou em analisar o passado por meio de posições modernas ou, em outras palavras, que forçou ao passado um entendimento hodierno. As linhas gerais da tese de POHLMANN, as respostas de BAPPERT e ainda uma réplica de POHLMANN foram publicadas na revista GRUR: BAPPERT. Wider und für den Urheberrechtsgeist des Privilegienzeitalters – 2. Teil – Auseinandersetzung mit dem Versuch einer Revision des Geschichtsbildes, in GRUR 1961, pág. 503; BAPPERT, Wider und für den Urheberrechtsgeist des Privilegienzeitalters – 3. Teil – Auseinandersetzung mit dem Versuch einer Revision des Geschichtsbildes, in GRUR 1961, pág. 553; POHLMANN. Zur notwendigen Revision unseres bisherigen Geschichtsbildes auf dem Gebiet des Urheberrechts und des gewerblichen Rechtsschutzes – Zugleich: Widerlegung von Bapperts Behauptung einer urheberrechtlichen Unmündigkeit der “Privilegienzeit”, in GRUR 1962, pág. 9.
[7] A título meramente exemplificativo, vide ABREU CHINELLATO Silmara Juny de. Direito de autor e direitos da personalidade: reflexões à luz do Código Civil. Tese para concurso de Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008, pág. 40.
[8] Sobre a proteção literária na Roma Antiga, recomenda-se a leitura do excelente trabalho de DURANTAYE Katharina de la. Ruhm und Ehre. Der Schutz literarischer Urheberschaft im Rom der klassischen Antike, 2006, publicado no Forum Historiae Juris, um periódico digital gratuito publicado pela Universidade Humbold de Berlin. Os dados históricos utilizados na elaboração deste item foram retirados em parte deste ensaio.
[9] Vide GIESEKE, , pág. 1.
[10] DURANTAYE, ob. cit., páragrafo 41.
[11] DURANTAYE, ob. cit., parágrafo 190 ss.
[12] DURANTAYE, ob. cit., parágrafo 7.
[13] Sem aprofundar o tema, destaca-se que uma outra razão importante ligada ao empenho dos mecenas era o controle da informação.
[14] No que diz respeito ao plágio, nota-se que tal denominação reporta ao conceito do delito romano do Plagium, que, por sua vez, não designa um delito literário. Marcial, poeta latino, ao tomar conhecimento que seus versos andavam sendo recitados por um terceiro em próprio nome, acusou-o de forma ilustrativa do delito do Plagium, ou seja, de raptor de homens livres com o fim de escravizá-los. O epigrama I, 52, de Martialis está à disposição no endereço www.thelatinlibrary.com/martial/mart1.shtml. DURANTAYE, ob.cit., parágrafo 96, afirma que, ao fazer tal acusação metafórica, Martialis teria se inspirado na acusação do grego Diógenes Laertios que, em razão de um roubo literário, havia acusado o estoicista Zenos de andrapodistes, ou seja, de ladrão de escravos.
[15] Apesar do talento e inspiração estarem vinculados aos deuses, o conteúdo da obra em si considerado reportava à pessoa do autor, o que justificava a pena de exílio para o poeta subversivo; vide DURANTAYE, ob.cit., parágrafo 214 ss.
[16] Vide GIESEKE, ob. cit., pág 2.
[17] Em sentido semelhante SEIFERT, Fedor. Über Bücher, Verleger und Autoren – Episoden aus der Geschichte des Urheberrechts, in NJW 1992, (1270-1276), pág. 1272.
[18] Assim ABREU CHINELLATO, ob.cit., pág. 41, em recepção ao proposto por MARIE CLAUDE D´OCK.
[19] ELIAS, ob. cit., pág. 58.
[20] ELIAS, ob. cit. pág. 66.
[21] ELIAS, ob. cit. pág. 65.
[22] A expressão capital improdutivo é aqui empregada no sentido dado a ela por HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21ª edição, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986: “No sistema feudal a riqueza da Igreja ou dos nobres não podia ser utilizado para multiplicar suas riquezas, porque não havia saída para ele. O mesmo acontecia à fortuna dos nobres. Se qualquer quantia ia ter às suas mãos, por impostos ou multas, os nobres não podiam investi-la em negócios, por que estes eram poucos. Todo o capital dos padres e dos guerreiros era inativo, estático, imóvel, improdutivo”.
[23] ELIAS, ob. cit., pág. 67.
[24] Minnesang chama-se a poesia de amor medieval cantada. O Minnesänger era o cavaleiro que recitava cantando versos e servindo, desta forma, à dama da corte. Sobre a relação entre cavaleiro e dama da corte como reflexo das transformações na estrutura econômico-social vide ELIAS, ob. cit., págs. 65-85.
[25] CHAMRAD, Evelyn. Der Mythos von verstehen: ein Gang durch die Kunstgeschichte unter dem Aspekt des Verstehens und Nichtverstehens in der Bildinterpretation, 2001. Dissertação publicada no endereço: htpp://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=964354969&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=964354969.pdf (2001), pág 64.
[26] CHAMRAD, ob. cit., pág. 63.
[27] São Bento de Núrsia reconheceu, em 529, que a atividade do copista de textos religiosos era uma forma de servir a Deus. SEIFER, ob. cit, pág.1272, conta a história de um monge pecador do século XII que logrou salvar sua alma pelo trabalho de copista: cada letra por ele escrita durante o trabalho de cópia de textos religiosos foi contada como absolvição para cada um dos seus pecados. Ao final do trabalho apenas restou uma única letra livre de pecados.
[28] Jerônimo de Strídon viveu entre 347 e 419. Se considerarmos o fim do Império Romano ocidental com a derrubada de seu último Imperador em 476, a relação de Jerônimo de Strídon com a literatura pagã deveria ser tratada ainda no item supra sobre a Roma Antiga. Porém, sendo ele juntamente com Ambrósio de Milão e Agostinho de Hipona considerado como um dos pais da Igreja pós concílio de Nicéia, toma-se aqui por mais acertado tratar de Jerônimo no item referente à Idade Média.
[29] RUSSEL, Bertrand. Philosophie des Abendlandes. 4ª edição, München: Piper, 2007, pág. 355.
[30] RUSSEL, ob.cit. pág. 355.
[31] Tal postura radical em relação à literatura pagã só não foi adotada na Irlanda, onde os deuses do Olimpo nunca foram adorados e, conseqüentemente, a literatura pagã nunca foi temida pela Igreja. Assim RUSSEL, ob. cit., pág. 356, nota 8.
[32] RUSSELL, ob. cit. pág. 397
[33] “Ceterum in claustris, coram legentibus fratibus, quid facit illa ridicula monstruositas, mira quaedam deformis formositas ac formosa deformitas? Quid ibi immundae simiae? Quid feri leones? Quid monstruosi centauri? Quid semihomines? Quid maculosae tigrides? Quid milites pugnantens? Quid venatores tubicinantes? Videas sub uno capite multa corpora, et rursus in uno corpore capita multa. Cernitur hinc in quadrupede cauda serpentis, illini in pisce caput quadrupedis. Ibi bestia praefert equum, capram trahens retro dimidian; hic cornutum animal equum gestat posterius. Tan multa denique, tamque mira diversarum formarum codicibus, totumque diem occupare singula ista mirando, quam in lege Dei meditando. Proh Deo! si non pudet ineptiarium, cur vel non piget expensarum?” Este trecho vem citado em alemão no trabalho de CHAMRAD, ob. cit., pág. 72. A tradução para o português foi baseada no original em latim acima transcrito e na tradução oferecida por CHAMRAD, da qual se discorda em alguns pontos.
[34] CHAMRAD, ob. cit. , pág. 73.
[35] Bernardo também se queixou da beleza arquitetônica do mosteiro de Claraval, nas palavras de RUSSELL, ob. cit., pág. 423: “como todas as verdadeiras pessoas sérias da época, que viam em suntuosas construções um sinal de orgulho pecaminoso”.
[36] FAVIER, Jean. Carlos Magno. São Paulo: Estação Liberdade, 2004, pág. 360.
[37] FAVIER, ob. cit., pág. 366.
[38] CHAMRAD, ob. cit., pág. 71.
[39] FRUGONI, Chiara, Das Mittelalter auf der Nase. Brillen, Bücher, Bankgeschäfte und andere Erfindungen des Mittelalters. 2003, C.H. Beck, München, pág. 40.
[40] SEIFERT, ob. cit., pág 1272.
[41] No que toca outros escritos, como as contas, anotações, aulas, sermões etc, utilizavam-se tábuas de ceras. Estas tábuas, que a princípio eram usadas como suportes para aqueles escritos que não tinham necessidade de permanecerem fixados por muito tempo, eram algumas vezes empilhadas umas sobre as outras e amarradas entre si, formando assim um livro de madeira. Assim se fazia, por exemplo, com os livros contábeis. Vide neste sentido FRUGONI, ob. cit., pág. 41.
[42] GIESEKE, ob. cit., pág. 6.
[43] No que diz respeito a Roma Antiga, conta GIESEKE, ob.cit., pág. 2, que apesar de se reconhecer naquele período um mérito à publicação de um manuscrito, seu conteúdo era livre para ser divulgado (oratio publicata res publica est).
[44] Nas palavras de HUBERMANN, ob.cit., pág. 18: “As Cruzadas levaram novo ímpeto ao comércio. Dezenas de milhares de europeus atravessaram o continente por terra e mar para arrebatar a Terra Prometida aos mulçumanos. Necessitavam de provisões durante todo o caminho e os mercadores os acompanhavam a fim de fornecer-lhes o que precisassem. Os cruzados que retornavam traziam com eles o gosto pelas comidas e roupas requintadas que tinham visto e experimentado. Sua procura criou um mercado para esses produtos. (…)”.
[45] in: Alfredo Stussi (Org), Versi dámore in volgare tra la fine del secolo XII e l´ínizio del XIII, in Cultura Neolatina, LIX (1999), Pág. 1-69, apud FRUGONI, ob. cit., pág. 41.
[46] Assim entre outros GIESEKE, ob.cit. , pág. 5.
[47] FRUGONI, ob. cit., pág. 52.
[48] Note-se que o fato de tais peças apenas poderem ser alugadas aos alunos não restringia a liberdade de cópia típica do período. Como explica, GIESEKE, ob. cit., pág. 6, este hábito tinha antes por fim manter a atratividade da instituição de ensino ao impedir, por meio do aluguel (o que implicava em uma devolução das Pecias aos Stationarii), que outras faculdades tivessem acesso aos livros produzidos especialmente para um determinado curso.
[49] O processo de produção de Peciae acima descrito é explicado por FRUGONI, ob. cit., pág. 52 ss. A autora ainda fornece uma série de outros detalhes interessantes: o espaço entre as palavras nos textos escritos, por exemplo, foi introduzido neste período. O ponto na letra “i” foi introduzido apenas em 1450; a apóstrofe, os acentos, bem como o ponto no final das frases ou as vírgulas aparecem pela primeira vez em 1501 em uma impressão das obras de Petraca.
[50] EIKE VON REPGOW, autor do “Espelho Saxão” (Sachsenspiegel), um código aonde vinham escritas e compiladas as normas consuetudinárias da Saxônia medieval, rogou na introdução de seu trabalho uma praga a todos aqueles que viessem a falsificar o texto de sua obra. Vide ANN, Christoph. Die idealistische Wurzel des Schutzes geistiger Leistung, in GRUR Int. 2004, (597-603), pág. 598. Note-se, porém, que a preocupação com a integridade da obra neste período estava mais vinculada ao medo de perseguição política e religiosa do que a interesses ideais do autor.
[51] RUSSEL, ob.cit., pág. 319.
[52] Na indústria de impressão notamos um dos primeiros sinais de um movimento que culminou com a produção capitalista. De acordo com FULCHER, James: Kapitalsmus, Stuttgart: Reclam, 2007, pág. 41, apesar do pequeno tamanho das gráficas, o capital era necessário para viabilizar a compra da prensa e pagamento de salários, papel, tinta etc. O lucro estava vinculado ao pagamento de salários baixos, o que gerava, com freqüência, conflitos entre o mestre impressor e seus trabalhadores, que logo se organizaram em associações de aprendizes. Em 1539 aconteceu em Lion uma greve de impressores que alcançou em 1541também a cidade de Paris. A mesma siuação se repetiu em 1567 e em 1571.
[53] SIEGERIST, ob. cit., pág. 66.
[54] Este, inclusive, o sentido de “privilégio”, do latim privus, particular e lex, lei.
[55] A concessão do privilégio vinha ligada à prévia aprovação da obra pelos censores e continha, geralmente, determinações quanto ao tamanho e qualidade da edição.
[56] No que toca ao afirmado, vide GIESEKE, ob. cit., pág, 39 ss. O autor oferece ainda informações e fontes detalhadas sobre os privilégios concedidos no território da atual Alemanha.
[57] Neste sentido DE MATTIA, Fábio Maria, apud ABREU CHINELLATO, ob. cit., pág, 48.
[58] VOGEL, in SCHRICKER, Gerhard. Urheberecht. Kommentar. 2ª edição. München: C.H. Beck, 1999, pág. 33.
[59] O norte da Alemanha era e ainda é protestante, enquanto que no sul a maior parte da população era e ainda é católica. A superioridade cultural do protestantismo nos primórdios do Estado moderno foi em grande parte um fenômeno de caráter linguístico. A tradução para o alemão da Bíblia feita por Martinho Lutero, reformador que viveu entre 1483-1546, representou um impulso decisivo para o desenvolvimento cultural da Alemanha protestante. É certo que Lutero não foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão; pelo contrário, em seu tempo já circulavam diferentes traduções baseadas na Vulgata, a Bíblia em latim escrita por São Gerônimo no século IV. Em sua tradução, Lutero teve, porém, o cuidado de verter os textos diretamente do grego e hebreu, valendo-se para este fim de expressões simples, costumeiras, possibilitando o seu entendimento pelos leigos. Deste modo, esta tradução foi bem recebida entre os protestantes, contribuindo não só para a unificação da língua alemã, mas também para a formação de um sentimento de nacionalidade. Quando no fim do século XVII o latim, até então o idioma dos cultos, começou a perder terreno para o alemão, as regiões protestantes contaram com uma grande vantagem em relação às regiões católicas. Aqui um fator de superioridade cultural do norte em relação ao território do sul. Outro fator que muito contribuiu para a superioridade cultural protestante foi a postura rígida da Igreja Católica frente ao protestantismo. Exercendo uma política de autoproteção, o catolicismo rejeitou as influências culturais e linguísticas das regiões protestantes, de modo que as produções literárias católicas neste período estavam concentradas nas mãos de cléricos. Os católicos ganharam assim fama de incultos. Neste sentido afirmou o historiador JOHANNES HALLER em 1922, apud HÜRTEN, Heinz. Deutsche Katholiken 1918-1945. Paderborn; München; Wien; Zürich: Schöningh, 1992: “Aquilo que o mundo conhece como cultura alemã é, independente do grande número de católicos, em sua maior parte de origem protestante”. Em contrapartida os católicos desenvolveram um sentimento antiprussiano que fortaleceu o nacionalismo e o tradicionalismo nas regiões que viviam.
[60] VILLALBA, Carlos Alberto / LIPSZYC, Délia. El derecho de autor en la Argentina. Ley 11.723 y normas complementarias y reglamentarias, concordadas con los tratados internacionales, comentadas y anotadas con la jurisprudencia, Buenos Aires: 2001, pág. 2.
[61] LEONARD, Irving. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Econômica. 1979, p. 92 citado no endereço http://www.unicamp.br/iel/memoria/base_temporal/Historia/acpXVI_30a.htm
[62] LEONARD, Irving. Los libros del conquistador. México: Fondo de Cultura Econômica. 1979, p. 92 citado no endereço http://www.unicamp.br/iel/memoria/base_temporal/Historia/acpXVI_35a.htm
[63] SCHWERHOFF, Gerd. Die Inquisition, München: 2004, pág. 75.
[64] CHARTIER, in DIDEROT, Denis. Carta sobre o comércio do livro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002 (2002), pág. 12.
[65] CHARTIER in DIDEROT, ob. cit., pág. 13.
[66] CHARTIER in DIDEROT, ob. cit., pág. 13.
[67] CHARTIER in DIDEROT, ob. cit., pág 13.
[68] DIDEROT, ob. cit., pág. 66.
[69] DIDEROT, ob. cit., pág. 66: “(…) Ah! Destrua todas as comunidades, entregue a todos os cidadãos a liberdade de aplicar suas faculdades de acordo com seus gostos e interesses, faça extinguir todos os privilégios, até mesmo os do mercado livreiro, consinto com tudo; tudo está em ordem desde que a lei sobre os contratos de compra e venda subsistam”.
[70] DIDEROT, ob. cit., pág. 39
[71] DIDEROT, ob. cit., pág. 83.
[72] DIDEROT, ob. cit., pág. 76, pergunta: “(…) E por que Fournier fundiria os mais bonitos tipos da Europa se não forem mais usados? E por que os moradores de Limonges trabalhariam para aprimorar seus papéis se só forem comprados os do Messager boiteux? E por que os impressores pagariam caro a mestres revisores instruídos, bons compositores e impressores hábeis, se estes cuidados só servirá para multiplicar seus gastos sem aumentar seus lucros?”
[73] DIDEROT, ob. cit., pág. 77.
[74] DIDEROT, ob. cit., pág. 109.
[75] DIDEROT, ob. cit., pág. 96:”(…) Faça abolir as leis, torne a propriedade do comprador incerta, e esta política mal concebida recairá em parte sobre o autor. Que partido poderei tirar de minha obra, sobretudo se ainda tiver minha reputação por fazer, como suponho, se o livreiro puder recear que um concorrente, sem correr o risco de pôr meu talento à prova, sem arriscar os adiantamentos de uma primeira edição, sem me conceder honorário algum, não faça uso em pouco tempo, ao fim de seis anos, até mais cedo se ousar, de sua aquisição? As produções do intelecto já rendem tão pouco! Se renderem ainda menos, quem quererá pensar?”
[76] De acordo com HUBERMAN, ob. cit., pág. 138, o comerciante francês Gournay, como conta Turgout, Ministro francês das Finanças, espantou-se “ao verificar que um cidadão não podia fazer nada nem vender nada sem ter comprado o direito disso, conseguindo, por alto preço, sua admissão numa corporação … Nem havia imaginado que um reino onde a ordem de sucessão fora estabelecida apenas pela tradição … o governo teria condescendido em regulamentar, por leis expressas, o comprimento e a largura de cada peça de tecido, o número de fios de que deve ser formada, e consagrar com selo da legislatura quatro volumes in-quarto cheios destes detalhes importantes, bem como baixar numerosas leis ditadas pelo espírito monopolista. Não o surpreendeu menos ver o governo ocupar-se da regulamentação do preço de cada mercadoria, proibindo um tipo de indústria com a finalidade de fazer florescer outro … e julgar que assegurava a abundância do cereal, tornando a situação do agricultor mais incerta e desgraçada do que a de todos os outros cidadãos”. Irritado com a regulamentação excessiva imaginou a frase que virou o grito de guerra do liberalismo: Laissez-faire! Em tradução livre, “deixem-nos em paz”. Neste sentido diz DIDEROT, ob. cit.,pág. 65: “seria um estranho paradoxo, num tempo em que a experiência e o bom senso concorrem em demonstrar que todo entrave é nocivo ao comércio, afirmar que nada sustenta o mercado livreiro além dos privilégios”.
[77] HUBERMAN, ob. cit., pág. 139
[78] O termo ideologia é aqui empregado em sua acepção neutra, como a descrição de uma idéia, livre da conotação pejorativa ou preconceituosa que a expressão ganhou durante o iluminismo.
[79] FICHTE escreveu seu artigo em outubro de 1791, o trabalho foi, porém, publicado apenas em 1793.
[80] VOGEL, in Schricker, ob. cit., pág. 35.
[81] A tradução aqui é livre. No original: “Das Eigenthum des erstern geht durch den Verkauf des Buchs unwidersprechlich auf den Käufer über. Er kann es lesen, un es verleihen, so oft er will, wieder verkaufen an wen er will, und so theuer oder so wohlfeil er will oder kann, es zerreißen, verbrennen; wer könnte darüber mit ihm streiten?“.
[82] E assim compreende-se o caminho perseguido pelo ordenamento brasileiro, que “não confere proteção a idéias e tampouco ao aproveitamento industrial contido nas obras”, SILVEIRA, Newton. Estudos e pareceres de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pág. 312.
[83] De acordo com a teoria dualista os interesses patrimoniais os interesses pessoais do autor são protegidos por direitos que, apesar de interrelacionados, são de natureza diversa e independentes entre si. Consequentemente, nos países onde adotou-se a teoria dualista admite-se a cessão das faculdades patrimoniais do autor. A teoria monista, ao contrário, considera ambos os interesses do autor protegidos por um único direito, o que inviabiliza a cessão das faculdades patrimoniais do direito de autor.
[84] SIEGRIST, ob. cit., pág. 68.
[85] VOGEL, in SCHRICKER, ob. cit., pág. 33. ANN, ob. cit., pág. 598, indica, por sua vez, um documento datado de 1486 como o primeiro privilégio de autor (Autorenprivileg) veneziano. Nele premiava-se o autor de um trabalho sobre a história de Veneza com o direito exclusivo de publicar sua própria obra.
[86] ANDRÉ LUCAS, HENRI-JACQUES LUCAS, apud ABREU CHINELLATO, ob. cit., pág. 50.
[87] VOGEL, in SCHRICKER, ob. cit., pág. 33.
[88] „Nu wäre der Schaden dennoch zu leiden, wenn sie doch meine Bücher nicht so falsch und schändlich zurichten. Nu aber drucken sie dieselbigen und eilen also, dass, wenn sie zu mir wiederkommen, ich meine eigenen Bücher nicht kenne.“ SEIFERT, ob. cit., pág. 1273.
[89] VOGEL, in Schricker, ob. cit., pág. 39.
Publicado pela primeira vez na Revista da EMARF, Nr.13, 2010.
Karin Grau Kuntz – Doutora e mestre em direito pela Ludwig-Maximilians-Universität München; Würtenberger Rechtsanwälte (München)
Fotografia: Roberto Grau-Kuntz
ISSN 2509-5692
![]()